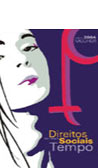O ano das mulheres
Sexta-feira, oito e meia da noite. O dia foi quente, mas a noite está fria. No Auditório 1.º de Maio o ambiente certamente vai aquecer. Por isso há que jantar depressa e rumar para junto do lago. «Onde?» Lá ao fundo, naquela tenda branca. «Ah, sim, reparei quando entrei. É que é a primeira vez que venho à Festa e ainda não conheço os cantos à casa.» E a vista é bem bonita, com as luzinhas reflectidas na Baia do Seixal. «É verdade. E que bem que se está aqui a ouvir a Filipa Pais.»
É, pois, com música portuguesa que se iniciam as actuações do Auditório 1.º de Maio. Entre as canções tradicionais recolhidas por Michel Giacometi e o seu próprio repertório, Filipa Pais mostra como sabe cantar bem e como foi criando ao longo dos anos um público fiel, que acompanha quase todos os temas.
À nossa frente vão desfilando canções simples, que falam de amor, do trabalho nos campos, das pequenas e grandes viagens, das reflexões. São-nos passadas através de uma voz enérgica, de quem sabe o que faz, acompanhada com uma série de instrumentos que cria um ambiente propício ao seu deleite: piano, concertina, contrabaixo, violino e bateria.
As Tucanas vêm estremecer o auditório com os seus originais instrumentos de percussão. São cinco raparigas enérgicas, que transferem para a Atalaia as toadas tradicionais africanas, brasileiras e portuguesas. Dançam ao mesmo tempo que tocam nos instrumentos, emitem sons incompreensíveis mas muito musicais, algures entre gritos de guerra e chamamentos. Os aplausos do público surgem espontaneamente, como se fosse inevitável participar de alguma forma no espectáculo.
Elas continuam a tocar nos seus bidons, cabaças e bombos coloridos, com uma sincronia irrepreensível. Abandonam depois as baquetas e passam para uns bancos à boca do palco. Dão palmadas nas mãos, nas pernas, no peito, no queixo e na boca, acompanhadas apenas pelos guizos atados aos pés. «Afinal, é fácil fazer música. E os braços delas devem ser bem musculados!».
Por vezes usam a voz como um coro de africanas, contando uma história só com sons. Agora há também palavras: «Ó mar, vem cá molhar-me!» A voz salta pelo ar entre cada batida. As baquetas são extensões dos braços. Caem ao longo do corpo, cruzam-se em cima das cabeças. Têm vida. E que vida!
Seguem-se mais mulheres, desta vez um grupo de canto, as Moçoilas. São quatro, vestidas com roupas e chapéus tradicionais do Sul do País, e cantam a capela com sotaque algarvio ou alentejano, conforme a origem de cada canção. A maioria é de proveniência popular, curtas e acompanhadas com adufes, castanholas, ferrinhos e guizos. Surgem diálogos entre elas – como se conversassem cantando –, que facilmente se transformam em despiques divertidos de vizinhas impertinentes e bisbilhoteiras. «E a canção que fizeram especialmente para a Festa? Como é? “Da Fil à Ajuda, Loures e Seixal...”»
A primeira noite da Festa termina com o espectáculo de Maria Alice. As mornas e as coladeras cabo-verdianas embalam, num afago íntimo. Casais dançam em frente ao palco. A noite termina calmamente.
Voz e instrumental
«Olá, outra vez por aqui? Eu agora já não quero outra coisa!» Nem nós.
Os australianos Dili All Stars empolgam o público desde o início. Se a toada rock não fosse suficiente, a excentricidade de um dos vocalistas faria o resto. Com a língua de fora e a abanar as ancas, vai pondo os espectadores aos pulos na relva.
«Freedom», cantam, numa referência à luta de libertação do povo de Timor. «Liberdade» – assim mesmo, em português – faz o refrão da última canção. Uma rapariga aparece no palco a movimentar umas fitas compridas e coloridas. Atrás surge um homem com uma câmara de filmar. «Também vou aparecer. Vão-me ver no outro lado do mundo!» O público entoa em coro o refrão, de pé e com muitos punhos no ar.
Quase que nem é preciso baixar os braços. Segue-se Julian del Valle e o grupo Origens, que falam sobre o 11 de Setembro original, o do golpe militar de Pinochet no Chile e da terrível repressão política que se seguiu. Em «portunhol», o músico vai explicando a história de cada canção, o que é o mesmo que dizer a história da América Latina, desde a colonização europeia ao neoliberalismo.
Agora é a vez do Segue-me à Capela, outro grupo feminino que usa o seu instrumento mais íntimo, a voz, por vezes acompanhada por adufes, pandeireta, chocalhos e uma bateria rústica com bombos de vários tamanhos.
Música tradicional é música vivida em comunidade. Por isso, as sete mulheres do grupo teatralizam as letras, respondendo umas às outras e comentando as canções, vindas principalmente do Minho, das Beiras e de Trás-os-Montes.
Nova banda, novo género musical. Quatro concertinas começam a tocar devagar, como se a música nascesse de dentro dos intérpretes. Vem do peito, da cabeça, atravessa os braços e desagua no instrumento. Abre, fecha, mão acima, botão premido, pé a bater no chão, quatro fazem um só, quatro sons, uma música – Danças Ocultas. Suave, a canção prossegue, sem voz. «Mas para que é ela precisa? Esta cá tudo.» O auditório está apinhado. Todos aplaudem, mas rapidamente se silenciam. Querem ouvir mais.
Depois da música experimental dos Telectu (acompanhados na percussão por Eddie Prévost, no contrabaixo por John Edwards e no saxofone por John Butcher) e do jazz da Zé Eduardo Unit, actuam os CantAutores, que executam exclusivamente canções de Zeca Afonso, Sérgio Godinho e Fausto. «Coça a Barriga», «Amor não me Engana», «Barnabé» e «Enquanto há Força» foram alguns dos temas interpretados, fugindo aos grandes êxitos dos três autores.
«Olha, estas são como eu, choram muito… E não têm vergonha de dizer.» Não, são as brasileiras Choronas, mas porque tocam choro, baião, maxixe e samba. Com flauta, viola, cavaquinho, pandeireta e muito ritmo tocam «Noites Cariocas», «Tico, Tico no Fubá», «Atraente», «Meu Caro Amigo» e «Brasil Brasileiro», todas melodias conhecidas pelo público.
Boas fusões
«Boa tarde! Ainda bem que combinámos. No meio desta gente toda por pouco não nos encontrávamos. Como foi ontem à noite o espectáculo da Ana Moura? Tive de me ir embora e não vi.» Na noite de sábado, a jovem fadista baseou o espectáculo no seu disco, «Guarda-me a Vida na Mão», acompanhada por dois guitarras e três violas. Com uma voz forte, cantou e maravilhou.
«Deixa ver o programa. O auditório começa hoje com o quê?» É a Ronda dos Quatro Caminhos, acompanhada pela Sinfonieta de Lisboa e pelo Grupo Etnográfico de Évora, numa junção perfeita, à semelhança de outras experiências de cruzamento que já foram feitas na Festa do Avante!. Sem dúvida um dos melhores espectáculos de 2003.
Os Realejo mostram o poder da sanfona e da gaita-de-foles, num conjunto completado pela voz da saltitante Catarina, que apenas em três canções mostrou os seus dotes de cantora e de falante de mirandês. «Vou lá para a frente dançar um bocado. Não admira que a vocalista não pare quieta.» Demonstrando uma grande perícia instrumental, o grupo passa dos sons celtas para a música beirã e transmontana, sem nunca descurar o ritmo.
«Vêm aí os paraquedistas com as bandeiras do Partido. Vou espreitar se caem ao lago…» Enquanto aterram, o palco vai sendo transformado para receber o grupo Contrabando.
Quando finalmente chegam, ouve-se a voz arrastada que tão bem fica nas canções alentejanas. E começa uma canção calma como a brisa da tarde, marcante como a paisagem do sul, melódica como só a música com profundas raízes tradicionais consegue ser. «São seis horas e o espectáculo continua?» Eu vou mas é para o comício.» E a repórter também foi, claro.
À noite, os Galandum Galandaina trouxeram mais música popular, desta vez exclusivamente de Trás-os-Montes. Com uma pronúncia cerrada e vestidos com trajes típicos das terras de Miranda do Douro, os intérpretes vão cantando a vida dos pastores, os bailes das aldeias e o trabalho na lavoura.
«O meu avô é de Trás-os-Montes, deve ser por isso que gosto tanto disto. Está-me no sangue…» Ou não. Talvez seja simplesmente porque a música tradicional portuguesa, quando é tocada, agrada a todos, mesmo aos que não a ouvem habitualmente.
Depois do Quinteto Rodrigo Gonçalves e do seu jazz fluído, os espanhóis Cruce de Caminos apresentam um espectáculo de fusão do flamenco com o jazz. As palmas, desta vez, começam no palco. A bailarina Carmen Córtes dança, dando potente passos, braços no ar, tacões no chão, rosto crispado. Atrás, a voz delongada de Juan Jose Amador. Ela baila, não dança, porque é espanhola. Dá uma volta sobre si mesmo, olhos baixos, sentindo a música e traduzindo-a em passos de dança. Levanta o vestido comprido com a mão e mostra os pés. O ritmo é exactamente o mesmo da música.
Lá fora começa o fogo de artifício, luzes no ar, barulho no céu. Terminam assim os espectáculos do auditório, num ano em que a organização apostou em grupos pouco conhecidos mas de qualidade e venceu a aposta. À qualidade e inovação das bandas correspondeu uma óptima recepção do público.
À nossa frente vão desfilando canções simples, que falam de amor, do trabalho nos campos, das pequenas e grandes viagens, das reflexões. São-nos passadas através de uma voz enérgica, de quem sabe o que faz, acompanhada com uma série de instrumentos que cria um ambiente propício ao seu deleite: piano, concertina, contrabaixo, violino e bateria.
As Tucanas vêm estremecer o auditório com os seus originais instrumentos de percussão. São cinco raparigas enérgicas, que transferem para a Atalaia as toadas tradicionais africanas, brasileiras e portuguesas. Dançam ao mesmo tempo que tocam nos instrumentos, emitem sons incompreensíveis mas muito musicais, algures entre gritos de guerra e chamamentos. Os aplausos do público surgem espontaneamente, como se fosse inevitável participar de alguma forma no espectáculo.
Elas continuam a tocar nos seus bidons, cabaças e bombos coloridos, com uma sincronia irrepreensível. Abandonam depois as baquetas e passam para uns bancos à boca do palco. Dão palmadas nas mãos, nas pernas, no peito, no queixo e na boca, acompanhadas apenas pelos guizos atados aos pés. «Afinal, é fácil fazer música. E os braços delas devem ser bem musculados!».
Por vezes usam a voz como um coro de africanas, contando uma história só com sons. Agora há também palavras: «Ó mar, vem cá molhar-me!» A voz salta pelo ar entre cada batida. As baquetas são extensões dos braços. Caem ao longo do corpo, cruzam-se em cima das cabeças. Têm vida. E que vida!
Seguem-se mais mulheres, desta vez um grupo de canto, as Moçoilas. São quatro, vestidas com roupas e chapéus tradicionais do Sul do País, e cantam a capela com sotaque algarvio ou alentejano, conforme a origem de cada canção. A maioria é de proveniência popular, curtas e acompanhadas com adufes, castanholas, ferrinhos e guizos. Surgem diálogos entre elas – como se conversassem cantando –, que facilmente se transformam em despiques divertidos de vizinhas impertinentes e bisbilhoteiras. «E a canção que fizeram especialmente para a Festa? Como é? “Da Fil à Ajuda, Loures e Seixal...”»
A primeira noite da Festa termina com o espectáculo de Maria Alice. As mornas e as coladeras cabo-verdianas embalam, num afago íntimo. Casais dançam em frente ao palco. A noite termina calmamente.
Voz e instrumental
«Olá, outra vez por aqui? Eu agora já não quero outra coisa!» Nem nós.
Os australianos Dili All Stars empolgam o público desde o início. Se a toada rock não fosse suficiente, a excentricidade de um dos vocalistas faria o resto. Com a língua de fora e a abanar as ancas, vai pondo os espectadores aos pulos na relva.
«Freedom», cantam, numa referência à luta de libertação do povo de Timor. «Liberdade» – assim mesmo, em português – faz o refrão da última canção. Uma rapariga aparece no palco a movimentar umas fitas compridas e coloridas. Atrás surge um homem com uma câmara de filmar. «Também vou aparecer. Vão-me ver no outro lado do mundo!» O público entoa em coro o refrão, de pé e com muitos punhos no ar.
Quase que nem é preciso baixar os braços. Segue-se Julian del Valle e o grupo Origens, que falam sobre o 11 de Setembro original, o do golpe militar de Pinochet no Chile e da terrível repressão política que se seguiu. Em «portunhol», o músico vai explicando a história de cada canção, o que é o mesmo que dizer a história da América Latina, desde a colonização europeia ao neoliberalismo.
Agora é a vez do Segue-me à Capela, outro grupo feminino que usa o seu instrumento mais íntimo, a voz, por vezes acompanhada por adufes, pandeireta, chocalhos e uma bateria rústica com bombos de vários tamanhos.
Música tradicional é música vivida em comunidade. Por isso, as sete mulheres do grupo teatralizam as letras, respondendo umas às outras e comentando as canções, vindas principalmente do Minho, das Beiras e de Trás-os-Montes.
Nova banda, novo género musical. Quatro concertinas começam a tocar devagar, como se a música nascesse de dentro dos intérpretes. Vem do peito, da cabeça, atravessa os braços e desagua no instrumento. Abre, fecha, mão acima, botão premido, pé a bater no chão, quatro fazem um só, quatro sons, uma música – Danças Ocultas. Suave, a canção prossegue, sem voz. «Mas para que é ela precisa? Esta cá tudo.» O auditório está apinhado. Todos aplaudem, mas rapidamente se silenciam. Querem ouvir mais.
Depois da música experimental dos Telectu (acompanhados na percussão por Eddie Prévost, no contrabaixo por John Edwards e no saxofone por John Butcher) e do jazz da Zé Eduardo Unit, actuam os CantAutores, que executam exclusivamente canções de Zeca Afonso, Sérgio Godinho e Fausto. «Coça a Barriga», «Amor não me Engana», «Barnabé» e «Enquanto há Força» foram alguns dos temas interpretados, fugindo aos grandes êxitos dos três autores.
«Olha, estas são como eu, choram muito… E não têm vergonha de dizer.» Não, são as brasileiras Choronas, mas porque tocam choro, baião, maxixe e samba. Com flauta, viola, cavaquinho, pandeireta e muito ritmo tocam «Noites Cariocas», «Tico, Tico no Fubá», «Atraente», «Meu Caro Amigo» e «Brasil Brasileiro», todas melodias conhecidas pelo público.
Boas fusões
«Boa tarde! Ainda bem que combinámos. No meio desta gente toda por pouco não nos encontrávamos. Como foi ontem à noite o espectáculo da Ana Moura? Tive de me ir embora e não vi.» Na noite de sábado, a jovem fadista baseou o espectáculo no seu disco, «Guarda-me a Vida na Mão», acompanhada por dois guitarras e três violas. Com uma voz forte, cantou e maravilhou.
«Deixa ver o programa. O auditório começa hoje com o quê?» É a Ronda dos Quatro Caminhos, acompanhada pela Sinfonieta de Lisboa e pelo Grupo Etnográfico de Évora, numa junção perfeita, à semelhança de outras experiências de cruzamento que já foram feitas na Festa do Avante!. Sem dúvida um dos melhores espectáculos de 2003.
Os Realejo mostram o poder da sanfona e da gaita-de-foles, num conjunto completado pela voz da saltitante Catarina, que apenas em três canções mostrou os seus dotes de cantora e de falante de mirandês. «Vou lá para a frente dançar um bocado. Não admira que a vocalista não pare quieta.» Demonstrando uma grande perícia instrumental, o grupo passa dos sons celtas para a música beirã e transmontana, sem nunca descurar o ritmo.
«Vêm aí os paraquedistas com as bandeiras do Partido. Vou espreitar se caem ao lago…» Enquanto aterram, o palco vai sendo transformado para receber o grupo Contrabando.
Quando finalmente chegam, ouve-se a voz arrastada que tão bem fica nas canções alentejanas. E começa uma canção calma como a brisa da tarde, marcante como a paisagem do sul, melódica como só a música com profundas raízes tradicionais consegue ser. «São seis horas e o espectáculo continua?» Eu vou mas é para o comício.» E a repórter também foi, claro.
À noite, os Galandum Galandaina trouxeram mais música popular, desta vez exclusivamente de Trás-os-Montes. Com uma pronúncia cerrada e vestidos com trajes típicos das terras de Miranda do Douro, os intérpretes vão cantando a vida dos pastores, os bailes das aldeias e o trabalho na lavoura.
«O meu avô é de Trás-os-Montes, deve ser por isso que gosto tanto disto. Está-me no sangue…» Ou não. Talvez seja simplesmente porque a música tradicional portuguesa, quando é tocada, agrada a todos, mesmo aos que não a ouvem habitualmente.
Depois do Quinteto Rodrigo Gonçalves e do seu jazz fluído, os espanhóis Cruce de Caminos apresentam um espectáculo de fusão do flamenco com o jazz. As palmas, desta vez, começam no palco. A bailarina Carmen Córtes dança, dando potente passos, braços no ar, tacões no chão, rosto crispado. Atrás, a voz delongada de Juan Jose Amador. Ela baila, não dança, porque é espanhola. Dá uma volta sobre si mesmo, olhos baixos, sentindo a música e traduzindo-a em passos de dança. Levanta o vestido comprido com a mão e mostra os pés. O ritmo é exactamente o mesmo da música.
Lá fora começa o fogo de artifício, luzes no ar, barulho no céu. Terminam assim os espectáculos do auditório, num ano em que a organização apostou em grupos pouco conhecidos mas de qualidade e venceu a aposta. À qualidade e inovação das bandas correspondeu uma óptima recepção do público.