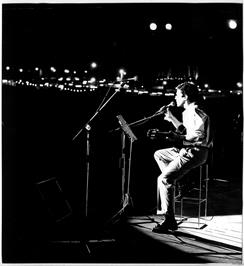Os caminhos imaginados de Cláudia Dias
Cláudia Dias não teme dramatizar os podres do mundo nem procura equidistâncias
Quarta-feira. O Tempo das Cerejas é a terceira parte do projecto Sete Anos, Sete Peças, da bailarina e coreógrafa Cláudia Dias, estreada no passado dia 7 no Festival Alkantara. À semelhança do que sucedeu com as duas criações anteriores, Segunda-feira. Atenção à Direita! e Terça-feira. Tudo o que é Sólido Dissolve-se no Ar, construídas em parceria com Pablo Fidalgo Lareo e Luca Bellezze, Cláudia Dias teve um «cúmplice» para mais este espectáculo: Igor Gandra, director do Teatro de Ferro e do Festival Internacional de Marionetas do Porto.
Comum às três peças é, também, o olhar questionador sobre o mundo: a denúncia de injustiças e flagelos sociais, a projecção de alternativas, a afirmação de posições claras, políticas, no que a palavra tem de mais amplo e exaltante. Uma atitude contrastante com a de outros artistas, que ora evitam (por opção ou incapacidade) a abordagem de determinadas temáticas, incómodas, nas suas criações, ora cultivam uma certa ambiguidade, ciosos em estar de bem com Deus e com o Diabo.
Já Cláudia não teme dramatizar os podres do mundo nem procura equidistâncias; toda ela é inquietação, revolta e sensibilidade: na primeira criação, os efeitos da chamada «austeridade» são apresentados como murros e pontapés desferidos num combate corpo-a-corpo (com direito a equipamento, luvas e ringue) e na segunda um fio branco é, sucessivamente, o passado e o presente, a vida e a morte, as esperanças e os temores dos palestinianos.
Por mais evidente que seja o lado da História em que Cláudia Dias se encontra – que não só não esconde como revela com total desassombro –, quem nas suas criações procurar panfletos e verdades prontas a servir não os encontrará. Aliás, são perguntas o que mais faz nas três obras já estreadas do ciclo Sete Anos, Sete Peças.
E se…?
O cenário de Quarta-feira. O Tempo das Cerejas é o mais despojado possível: um estrado vazio e um ecrã é tudo quanto se encontra no palco. A centralidade é dada às palavras e imagens projectadas na tela e ao escavar – constante, lento, quase sofrido – de um imenso buraco de onde emergirão Cláudia, Igor e as marionetas que os representam. Ele tanto pode remeter para a cratera de um míssil Tomahawk, que os EUA têm usado por esse mundo fora e recentemente contra o povo da Síria, como para os buracos financeiros que empurram milhões para a pobreza: sobre ele questiona-se, em letras brancas sobre fundo preto, «e se um dia as crises deixarem de ser buracos abertos nas democracias?»
Entre 1971 e o ano em que nos encontramos são realçados acontecimentos de impacto internacional, das vitórias eleitorais de Nixon, Thatcher ou Reagan às ditaduras fascistas no Chile e na Argentina; da invasão de Granada e das guerras na Jugoslávia, Iraque ou Síria ao alargamento da NATO até às fronteiras russas. Ao mesmo tempo, prossegue a escavação, como prossegue diariamente a acção dos que, rejeitando e combatendo o que lhes é imposto, projectam e constroem o devir.
É esse futuro que Cláudia e Igor imaginam ao mesmo tempo que se erguem dos escombros: um futuro que abrisse a porta à saída controlada da moeda única ou à nacionalização da banca à escala mundial; que possibilitasse, em 2027, a dissolução da NATO e seis anos depois a implementação do horário semanal das 25 horas. Um futuro no qual seja «mais fácil imaginar o fim do capitalismo do que o fim do mundo».
Imaginação? Sim, muita. Mas não é o sonho o primeiro passo do projecto e da luta?