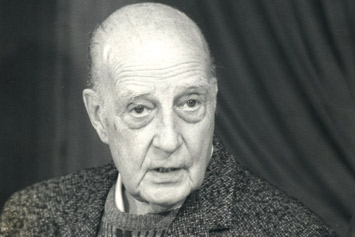Requiem para o cinema?
Com o registo analógico, a construção das imagens resultava dos elementos colocados em frente à câmara
A noção de um elo de ligação entre as imagens em movimento e a realidade e a ameaça da sua ruptura em consequência da digitalização tem sido um factor identificado por alguns como potenciador da morte do cinema. Com o registo analógico, a construção das imagens resultava sempre dos elementos colocados em frente à câmara ou da acção directa sobre o material sensível à luz, posteriormente projectado no ecrã.
O «acto inaugural do cinema» consistia, nas palavras de Arlindo Machado, «nesse instante de confrontação directa da câmara com a realidade que se [impunha] a esta, cabendo à película cinematográfica funcionar como a comprovação desse momento de verdade». Com a digitalização, contudo, não têm de existir vestígios materiais do registo (este pode ser transformado em linguagem abstracta), nem a realidade tem de servir de matéria-prima para as imagens (estas podem ser desenhadas informaticamente). Quer isto dizer que, enquanto o registo analógico estava dependente de uma informação material – de um contexto profílmico – para poder actuar, o registo digital pode construir-se exclusivamente a partir da simulação, isto é, utilizando imagens que não têm correspondência no mundo concreto.
A imagem cinematográfica pode consistir, a partir de agora, como escreve João Mário Grilo, «[n]uma operação de ‘composição’, a partir de uma descontinuidade não visível (mas apenas legível, pela linguagem do ordenador), numa descontinuidade apenas pontual e ocasionalmente visível». Isto faz com que «filmar objectos físicos», como assinala Lev Manovich, seja «uma mera possibilidade entre muitas outras».
O cinema foi muitas vezes descrito como a mais realista das artes, embora o realismo cinematográfico tenha sido compreendido de formas diferentes. Este foi ora elogiado e considerado pedra de toque da estética do filme, ora denunciado.
Em resultado da supressão do seu suporte essencial, não apenas a ontologia do cinema foi aparentemente posta em causa, mas, ao mesmo tempo, em virtude deste desencontro do real, parece evidenciar-se o esgotamento de, como refere Machado, «uma certa premissa epistemológica».
Outro aspecto é ainda evocado para justificar o desaparecimento do cinema. Este diz respeito ao modo de relacionamento do espectador com a obra. Raymond Bellour, no âmbito da reflexão que conduziu ao livro La Querelle des Dispositifs, afirma que a natureza própria do cinema reside no seu dispositivo. De acordo com o autor, este é formado pelo conjunto constituído pela «sala, o escuro, a projeção, e a reunião dos espectadores que assistem, por contrato, a um filme do início ao fim». Bellour propõe que tudo o que não se enquadre nesses limites não deverá ser definido como cinema.
Jacques Aumont, que discorreu também sobre estas questões no âmbito do seu ensaio Que Reste-t-il du Cinéma?, apresenta uma posição próxima. Ambos manifestam, em primeira instância, a necessidade de definir o cinema ou, pelo menos, encontrar as suas fronteiras, para refletir sobre a sua continuidade. Aumont salienta que aquilo que determina o que o cinema é não reside na forma como este se elabora, nos seus actos de produção, mas antes na forma como o espectador experiencia as imagens. Assim, para Aumont, uma obra constituída por imagens em movimento será considerada cinema quando concebida como um filme, por um cineasta, para um público de cinema. Embora Aumont admita a permanência do cinema (e não o seu desaparecimento), este afirma, através da forma como o define, não apenas a transformação dos modos de recepção habituais, mas, mais importante do que isso, a crescente diluição dos seus usos sociais convencionais.