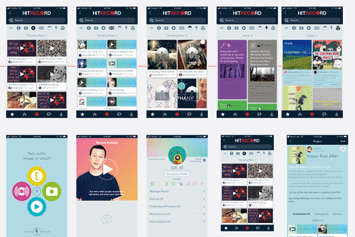Shitz, de Hanoch Levin, pela Companhia de Teatro de Almada
Levin é um dramaturgo israelita desalinhado dos rumos políticos do seu país
Uma família a viver o delírio e a inconsequência frustre destes nossos conturbados tempos: a família Shitz e os seus labirintos existenciais, os seus medos e raivas, a usura em que se estrutura, em que se desconstrói e ergue à altura do seu raso chão. Microcosmos, parábola violenta de um capitalismo autofágico, sem ética nem escrúpulos.
«Qual é o sentido desta existência?», interroga-se o Pai, perante a disfuncionalidade da sua família, da sua pequenez, da sua soberba sem limites. O Pai, a Mãe, a Filha e o futuro Genro: traves mestras, simbólicas, inquietantes de um tempo de regressão, sórdido, mesquinho, expurgado de humanidade e sem horizontes. Tempo em que os valores deixaram de pesar na máquina trituradora que o capitalismo é.
O universo sub-humano dos Shitz dá-nos, no seu ébrio desconcerto, no lodo que a habita, a medida absurda de uma sociedade que sobrevive em luta permanente, num charco, sem laivos de humanidade. E domina, submete outros povos pelo ódio e pela força das armas, esse letal argumento que não precisa de palavras.
A bestialidade anima estes corpos disformes, excessivos como a sua ganância, como a comida que todos eles vão deglutindo alarvemente. O discurso que Hanoch Levin constrói com meticulosa perícia, metendo o estilete satírico onde mais dói (a estrutura familiar), balançando entre uma remoçada linguagem becketiana e o delírio racional do Brecht de A Boda dos Pequenos Burgueses, traz-nos de volta ao grande teatro satírico, aos jogos de escárnio de Gil Vicente, de Calderon de La Barca e de Moliére. Um teatro em que a denúncia do mal, da invectiva mordaz contra grupos sociais que escorregam para a barbárie e nos arrastam, se desatentos, com as suas acções e manhas, com sua ilimitada usura, para a pequenez, para a ignorância, para os limites últimos do homem predador, vilão de si mesmo. Texto em que a vileza da nossa condição se expressa com inusitada violência, alcançando dimensão subliminar e metafórica da crueldade, raramente atingida na dramaturgia contemporânea.
«Os homens são lobos que comem vacas (e mulheres)», escreve Sarah Adamapoulos, no programa desta peça. Mas as mulheres, que há muito deixaram de ser submissas, esquivam-se subtilmente, como «aranhas tecendo a sua teia», a esse intento dos machos, mesmo quando eles detêm, como moeda de troca, o mais poderoso dos argumentos: o sémen reprodutor.
O capitalismo, e as suas monstruosidades, o circo de horrores que o texto de Hanoch Levin, dramaturgo israelita desalinhado com os caminhos da política de Israel, expõe ao nosso perplexo olhar, ao qual não falta a sagacidade da denúncia dos malefícios da militarização, das guerras frias e quentes, como meio de o grande capital ir sugando a riqueza dos povos e das nações.
O encenador italiano Toni Cafiero, que já encenara em Almada esse brilhantíssimo espectáculo que foi O Feio, pega neste material, neste pretexto teatral, e chama-lhe um figo. Pela implementação cénica, o simbólico conceptual do espaço (as paredes baixas propícias a albergar gente pequena, pobres de espírito, escreve Adamapoulos), o prodigioso, frenético movimento dos actores; o canto, a música, o envolvimento plástico a partir de elementos incomuns mas prenhes de simbolismo; os figurinos, a música, o canto, as vozes dos actores, todos estes rudimentos entrosados permitem a Cafiero construir um espectáculo que é uma soberba, exuberante transgressão do texto de Levin, dando-lhe amplitude, leitura política, e cruel, de uma realidade que nos esmaga, transpondo para os nossos dias o particular sentido crítico que, no texto, o autor faz sobre a realidade de Israel em 1974, tornando-o actual.
Uma palavra para os actores, soberbos actores, e para as suas modelares prestações performativas: André Pardal, Diogo Bach, Erica Rodrigues, Pedro Walter. Uma referência ainda para o músico dos sete instrumentos, Ariel Rodrigues.
Pode ser que depois de nos rirmos (mesmo neste circo de horrores, o riso é salutar e libertário), de nos inquietarmos, é provável que «De manhã, ao despertar, entre as pernas um rio achar».
Um espectáculo raro e reconfortante, a justificar plenamente uma ida ao Teatro Joaquim Benite.