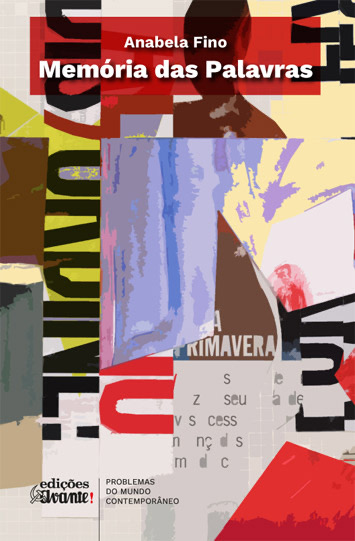David Lynch
David Lynch surgiu através da televisão, em 1990, com a série Twin Peaks
Saio, desta vez, dos meus temas habituais para escrever sobre David Lynch, cineasta estado-unidense falecido recentemente.
Lynch foi um dos realizadores que contribuiu para a construção da minha cinefilia, naturalmente entre vários outros, e por isso este texto assume um cariz mais pessoal. Impressionou-me em primeiro lugar o rigor formal na utilização da luz e da cor e na composição do plano e, em seguida, a estrutura da narrativa. Não é possível evitar a alusão ao registo onírico, já tantas vezes enunciado como uma marca forte da sua cinematografia, como resultado da junção dos elementos antes mencionados. As suas personagens deambulam, recorrentemente perdidas, incapazes de antecipar o seu destino, por paisagens insólitas e inóspitas, só por um breve momento inicial aparentemente familiares, que convocam o absurdo em que habitam. Contudo, nenhuma delas se detém face a essa estranheza ou interrompe o seu percurso. Tal como num sonho, não se questionam e predispõem-se sempre a continuar.
A minha descoberta do autor fez-se não seguindo a cronologia da sua obra porque me cruzei com ele não de forma intencional. Ao longo dos anos conheci muitos cineastas de forma deliberada, porque eram referências que importava conhecer para quem gostava de cinema e tinha a pretensão de o estudar. David Lynch surgiu, contudo, de modo diferente e até antes que eu tivesse noção deste interesse cinéfilo. Foi através da televisão, em 1990, quando a RTP1 transmitiu pela primeira vez em Portugal (numa altura em que não havia ainda televisão privada ou por cabo) a série Twin Peaks, descrita na altura pela imprensa portuguesa, que anunciava a sua estreia, como «surrealista» ou «barroco televisivo». Tinha então quinze anos e assisti à série avidamente, num misto de fascínio e medo, sempre com a minha mãe, a quem obrigava a ver também para me sentir mais segura. Aquela estória, a sua visualidade e a forma de narrar marcaram o meu imaginário como algo diferente de tudo o que havia visto até aí. Mas a verdade é que não havia visto muita coisa. E não tive coragem de assistir a «Blue Velvet», um dos seus filmes mais celebrados que havia estreado anos antes, e que estava disponível nos videoclubes.
Foi anos mais tarde que regressei ao autor. Já na universidade, na Covilhã, com cerca de vinte anos, cineclubista, assisti à reposição de «Eraserhead», a primeira longa-metragem de Lynch, uma fantasia industrial existencialista sobre os receios da idade adulta e da parentalidade. Percebi que o cinema podia ser tantas coisas, que a estória e verosimilhança são o menos importante. Percebi que ainda não sabia nada sobre cinema. Percebi o que era um autor, por que razão o seu cinema deu origem a um adjectivo: «lynchiano». Fui ver todos os filmes até aí, ou os que consegui encontrar em vídeo, o já mencionado «Blue Velvet», «O Homem Elefante», «Dune», «Wild at Heart».
Passados dois anos estreou «Lost Highway» e esteve duas semanas em cartaz na sala de cinema onde residia o cineclube a que eu pertencia. Fiquei completamente obcecada com o filme, fui vê-lo praticamente todos os dias em que foi exibido, ouvi a sua banda sonora (do Angelo Badalamenti) exaustivamente, sabia as falas de cor e tentei obstinadamente descortinar o significado daquelas personagens, intersecções e interacções, sem perceber na altura que era precisamente a sua dimensão intangível, ininteligível, que lhe atribuía interesse e que essa trama era urdida não exclusivamente pela narrativa, mas pela forma superlativa da utilização da linguagem visual e sonora.
A partir daqui vi os filmes do autor pela ordem pela qual foram surgindo na sala de cinema: «Mulholland Drive», «Straight Story», «Inland Empire». Nenhum destes me impressionou como os anteriores, não porque não tenha gostado, mas porque me pareceu que Lynch já se havia revelado, já estava expressa a sua genialidade.
David Lynch não morreu porque não é mortal.