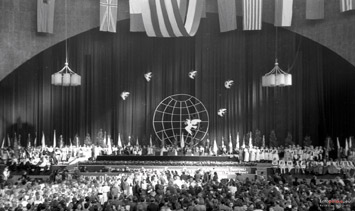As relações da grande distribuição com a produção nacional
ECONOMIA Reflectir e defender a soberania alimentar é um grande desafio que, além de oportuno, está em linha com a história do PCP, que sempre coloca os interesses dos portugueses e o futuro de Portugal acima da «espuma dos dias».
A grande disrtibuição passou a controlar o sector e moldou os hábitos de abastecimento e consumo
LUSA
A abordagem das relações entre a grande distribuição e a produção nacional alimentar, em particular a pequena e a média, vista na lógica da soberania alimentar, exige que ainda que sumariamente se reflicta sobre as transformações estruturais do comércio em Portugal e se recorde como a grande distribuição se implantou no País nas últimas décadas, embora com alguns anos de atraso em relação ao que aconteceu nos países da Europa ocidental devido às transformações extraordinárias da Revolução do 25 de Abril de 1974.
A partir dos anos oitenta do século passado, com o advento da política de recuperação capitalista, foram «abertas as portas» e dados apoios pelos governos PS/CDS, PS/PSD e PSD à implantação acelerada das grandes cadeias da distribuição alimentar e não alimentar. Estas recuperaram o atraso à força de impor condições leoninas nas relações com fornecedores nacionais e trabalhadores, passando por cima de normas e regras relativas a práticas comerciais, horários de abertura, condições de compra e prazos de pagamento, importações, regulação das relações de trabalho. Rapidamente passaram a controlar a distribuição, em particular alimentar, muitas vezes abusando da vantagem de «posição dominante», moldando os hábitos e horários de abastecimento e consumo dos portugueses.
Em poucos anos, a estrutura da distribuição alimentar portuguesa foi alterada pelas cadeias de hipermercados e supermercados: Continente (278 hiper e supermercados); Pingo Doce (422 supermercados); Jumbo e Pão de Açúcar (24 hipermercados e 17 supermercados ); Intermarché (228 supermercados); Lidl (250 supermercados); Dia/Minipreço (600 supermercados), El Corte Inglés (dois centros comerciais e nove supermercados); Leclerc (22 hipermercados); Aldi (60 supermercados), Spar (100 supermercos); Meu Super (190 supermercados franchizados pelo Continente); Coviram (330 supermercados franchizados) e pelas cadeias grossistas Recheio (43 lojas) e Makro (10 lojas).
A imensa rede de mercearias tradicionais, muitos «auto-serviços» e talhos que durante muitas décadas foram ponto de escoamento das produções locais e abasteceram os portugueses de produtos alimentares, bem como pequenas cadeias de supermercados e cooperativas regionais (AC Santos, Ulmar, Supercompra, Pluricoop, Alisuper, etc.) não aguentaram a concorrência, fecharam ou foram absorvidas.
Resultados da mudança estrutural
para a produção nacional
O capitalismo, ao apoderar-se do sector da distribuição, impôs horários de abertura dos estabelecimentos completamente liberalizados, novos métodos e formas de comprar, pagar, vender, receber e prestar serviços, com vista a controlar e gerar mais valias.
Fez «mexer» e racionalizar a produção, de que são exemplos positivos: as cooperativas do leite e derivados; produção de carnes, aves e ovos; alguns sectores de frutos e hortícolas; e até «tocou» a pesca, com as suas unidades de aquisição e processamento de pescado fresco. Forçou o embalamento adequado dos produtos, maior higiene e cuidado na conservação, manuseamento e apresentação e, para evitar estar por más razões «nas bocas do mundo», algumas cadeias até aderiram à chamada «responsabilidade social» e adoptaram regras de maior respeito pela «sustentabilidade ambiental», incluindo o tratamento, transporte e abate de animais e aves. Forçou ainda a criação de hábitos de cumprimento de prazos de entrega e de respeito pelos contratos comerciais por parte dos fornecedores.
Os contratos com fornecedores – com condições leoninas de fornecimento, prazos e condições de pagamento «elásticas» –, que levaram muitos ao desespero e insolvência, foram a inovação mais badalada, tal como a gestão dos fundos de tesouraria e as vendas a crédito, através dos cartões plafonados. O abuso de «posição dominante» foi e é usada para «partir preços», fazendo promoções de 30, 40 e 50 por cento de desconto em produtos alimentares, com os consumidores a acorrer a comprar o que precisam e não precisam, sem preocupações com a qualidade e origem dos produtos, que adquirem sem olhar à quantidade ou peso das embalagens. Confirma-se assim que continua a ser o preço o principal factor que dita a opção da maioria.
Estas promoções são sempre suportadas, duma ou doutra forma, pelos fornecedores, se são nacionais. Caso sejam internacionais, há outras formas de financiamento: através da subsídiação de preços pelos estados exportadores e excedentários ou por via do incumprimento de regras de produção e sociais básicas. Na mesma linha constata-se um crescimento das «marcas brancas», feitas em muitos casos de produtos importados, vendidos a preços mais baixos.
A circunstância de alguns produtos de grande consumo circularem sem a referência do país de produção, ostentando como origem o de embalamento, permite que se consuma cerveja estrangeira pensando que é nacional, azeite originário da Tunísia, Marrocos, Espanha ou Turquia com rótulo de português, arroz asiático julgando-se ser do Sado ou vinho dos novos produtores americanos ou australianos como sendo nacional. Está também na origem do facto de alguns dos melhores azeites portugueses – dos melhores do mundo, portanto – saírem a granel para Itália para depois serem engarrafados e vendidos e valorizados como sendo os melhores... de Itália.
A produção nacional perdeu
É preciso olhar com «olhos de ver» para as características da produção nacional – muita dela assente em unidades e trabalho familiar de pequena e média dimensão, sem «massa crítica» para satisfazer as exigências da grande distribuição em quantidade, preço, prazos de entrega e condições de pagamento e sem tradição nem condições de profissionalização. Por isso, muitos produtores ficam à espera que lhe apareça alguém a comprar a produção.
A generalidade dos produtores nacionais faz tudo: produz, gere e vende. Por isso, quando se proporciona, também enfrentam os compradores profissionais das grandes cadeias, altamente preparados e informados, saindo do confronto muitas vezes a perder porque não têm força negocial, informação e preparação e às vezes nem sabem o custo do produto que vendem. Daí resulta mais uma enorme desvantagem.
O aumento da concorrência entre grupos obriga a elevar a fasquia das exigências, cada um procurando ganhar vantagens. A concentração das compras, embalamento e distribuição a partir das plataformas logísticas dos grandes players da distribuição permite-lhe gerir melhor o abastecimento e o fornecimento às lojas, seleccionar mais os fornecedores: só ficam em linha os maiores, que garantam produtos standarizados, quantidade, entregas programadas e baixo preço; os outros são condenados à exclusão.
Com a exclusão da grande distribuição, o desaparecimento da rede tradicional de distribuição e o esvaziamento dos mercados municipais, as pequenas e médias produções deixam de ter acesso às prateleiras para expor e vender as suas produções, essenciais para abastecer os consumidores em diversidade e qualidade.
Nestas condições, a produção nacional perdeu e, com ela, a soberania alimentar de Portugal. Não chega o crescimento de alguns produtos, resultante de grandes investimentos em produções intensivas agro-agrícolas – como são exemplo o azeite e as hortícolas – para compensar o que se está a perder, em especial na diversidade da produção nacional.
A alternativa para os excluídos é avançar de forma criativa e cooperativa para novas formas de chegar com os produtos aos consumidores, como são exemplos a venda directa, a valorização de circuitos alternativos e a dinamização dos mercados municipais como verdadeiras plataformas de exposição e venda das produções locais de qualidade.
A balança alimentar cada vez mais desequilibrada
As importações de produtos alimentares – em primeiro lugar os cereais para consumo humano e animal (só produzimos um quarto do que consumimos); peixe fresco, congelado e salgado; carnes (só produzimos metade do que consumimos); hortícolas e frutos (embora se produza, não chega às prateleiras, que continuam cheias com importações) – desequilibram cada vez mais a balança comercial e sustentam o défice. Este, por sua vez, é usado pelo governo para justificar a continuação do «apertar do cinto», em especial no financiamento de funções sociais do Estado e na actualização dos salários dos trabalhadores da Administração Pública.
A legislação nacional
A campanha do Pingo Doce para acabar com o 1.º de Maio tal como o comemoramos, em 2012, fortemente denunciada e combatida, acabou por produzir um efeito colateral, que foi a aprovação do decreto-lei 166/2013. Este, continuando a ter muitas portas abertas aos abusos de «posição dominante» e não sendo o que era necessário, teve alguns efeitos positivos: por exemplo, obrigou as grandes superfícies a mexer no conteúdo dos «modelos tipo» dos contratos leoninos das grandes distribuidoras com os fornecedores, a reduzir os prazos de pagamento e a serem pelo menos mais cuidadosas nos «castigos» e vendas «abaixo do preço de custo».
Mas como se constata, a lei não acabou com as vendas «abaixo do preço de custo» no 1.º de Maio e noutros dias, nem com as chamadas práticas comerciais «restritivas». Ao mesmo tempo, incentivou a «auto-regulação», que só serve o mais forte. Ainda assim, as multas aplicadas pela mesma prática no 1.º de Maio passaram de cerca 30 mil euros em 2012 para 500 mil em 2014.
É obvio que não são estas multas (ainda por cima reduzidas pelos tribunais) pagas por empresas com lucros de centenas de milhões que as desincentivam a prosseguir na actividade criminosa para a produção nacional. É preciso ir mais longe, fazer aplicar todos os mecanismos da lei, inclusive os preventivos e mais penalizadores, regular melhor e penalizar directamente os gestores de «topo» quando promovem práticas como pagamentos com prazos «elásticos», em especial de perecíveis; cancelamento de encomendas; alterações unilaterais ou retroactivas de contratos de fornecimento; obrigação aos produtores de fazerem ofertas de determinadas quantidades de bens e serviços e receberem produtos devolvidos; exigências de pagamento de espaço para venda de produtos ou de notas de crédito compensatórias de produtos deteriorados ou simplesmente não vendidos; cobrança de promoções; vendas abaixo do preço de custo; discriminação de produtores, etc.
É necessário defender e promover uma política que valorize e diversifique a produção nacional e incentive – obrigue! – à compra, venda e consumo da produção nacional, em muitos casos produtos excelentes e mais frescos, compensando o preço mesmo quando ligeiramente superior.
Somos um País independente se tivermos soberania alimentar.