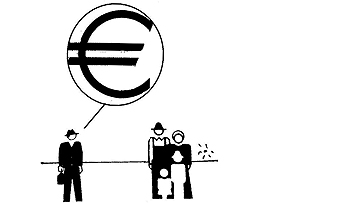Joaquim Lagoeiro – o contador de estórias; um exigente transfigurador da palavra
Agora que o autor deixou o nosso convívio, aos 92 anos de uma vida preenchida por sonhos, solidariedade, afectos, trabalhos e lutas; perpassada pelas mágoas que a longevidade inevitavelmente arrasta; vivendo num país que quase lhe ignorou, por atávica sobranceria, a obra; alheamento que o levou a romper com o circuito comercial e a auto-publicar-se, em profícuo e corajoso labor editorial. Relembremos, portanto, nas páginas do Avante!, que foi também o seu jornal, alguns dos textos de um vasto espólio disperso pelo romance (15 títulos); pelo conto (5 títulos); pelas crónicas linguísticas, pelas estórias infantis, pela poesia e pela abordagem crítica: herança perene desse que foi, até ao fim, um prosador atento ao real e esforçado artesão de palavras.
Falemos, com brevidade possível, da obra do autor de Milagre em S. Bartolomeu, último título de um tríptico que inclui Madre Antiga e se inicia com esse texto canónico que é Viúvas de Vivos, título a justificar reedição urgente e critica. Com esta análise breve, se pretende contribuir para despertar, nos mais desatentos, a leitura que obras como Madre Antiga, O Poço, Cafarnaum, Mar Vivo, Caiu Um Santo do Altar, e o último que publicou em vida, O Baile, plenamente justificam.
Joaquim Lagoeiro foi, sobretudo, um exímio contador de estórias. Coisas cerzidas com vagar de artesão lúcido e tenaz. Estórias curtas quase sempre, com tempos e respirações certeiros, mantendo a chama, a atenção viva do leitor, rematada técnica. Contos e novelas moldados com rigor (os capítulos de Viúvas quase que sobrevivem independentes do corpus central do romance), um estilaço apurado, como diria o Mário de Carvalho, burilado e destro, ágil nas reverberações da língua, mesmo quando finta os verbos e se excede em latinórios colhidos na cepa, exegese rara. Um esteta da oralidade, das falas de antanho, rudezas avoengas elementares, vernáculo agreste, vivo, curtido – falajar próprio das terras de partida e arribação: diáspora nossa, destino interminável, fado será – os deuses que se amanhem nesses meandros de alma.
Os diálogos das comadres, em Viúvas de Vivos, são do melhor que a literatura portuguesa produziu desde Camilo. Pena que o teatro o não tenha seduzido e nessa lamentação faço coro com Mário Sacramento, que nos diálogos, por onde a arte do escriba mais se expande, foi Lagoeiro modelar. A mestria com que esta fala rompe os sobejos do romantismo e impregna a prosa de um erotismo descomplexado, expurgado da ganga hipócrita de sacristia salazarenta, ultrapassando os ditames do tempo e a vigília censória, é de mestre. Embora o Camilo das novelas nos surja amiúde à esquina da narrativa, nas atmosferas, no falajar das gentes, Lagoeiro impõe ao texto a modernidade, a elipse, o corte abrupto e eficaz, anulando, com sageza, o trágico redutor.
O escritor reside no estilo, escreveu Herberto Helder. A escrita de Joaquim Lagoeiro afirma plenamente essa consigna, desde Viúvas de Vivos até ao recente O Baile. Há nos seus processos oficinais, desde os primórdios (não esquecer que se estreou nas letras com comovente e cru romance, como escreveu Urbano Tavares Rodrigues, referindo-se a Viúvas de Vivos) uma escrita que balança entre os ditames da axiologia estética e os da axiologia estético-ideológica.11
Poderiam as estórias cruzadas de Viúvas de Vivos serem-nos contadas sem esse prodígio que a linguagem nelas opera, ou sem a bagagem ideológica que o impregna? As dores e os remorsos, os desejos de Vivência, as mulheres que no lavadouro se insultam e desesperam até à violência, perdidas nos labirintos cruéis de uma vida, destino será, que não comandam, sofrendo agruras das quais nem sequer suspeitam as origens; fado que assim as priva de homem e de amparo, de companhia para as longas e sofridas travessias do Inverno e das fomes; e a secura de Amélia, o desapego pela filha de um desejo fugaz mas interesseiro, capricho de menina tonta à Manuel da Fonseca, mas caldeado com o pragmatismo das gentes dos litorais beirões. Estas mulheres, de homens ausentes, se nos seduzem ou magoam, se com elas nos irmanamos nas dores e nas lágrimas, se com elas sorrimos ou nos apiedamos é por mor dessa fala cáustica e mordaz, com raízes fundas na intertextualidade de que irmana; vem-nos de Aquilo Ribeiro, das falas da gente das altas beiras, do Malhadinhas, de Quando os Lobos Uivam, Terras do Demo; à mistura com a serenidade lírica e trágica de um Leão Penedo – parceiros do autor no desbravar da língua, na descoberta e revelação das nossas mais fundas idiossincrasias, sem esquecer os primórdios da língua agreste e destemperada de Gil Vicente, que estas praias desbravou no seu Auto da Índia. Sinais, lanhos nossos, caminhar pelo mundo com agravos de fome e de vertigem.
Essas mulheres que definham em paisagem deserta de macho, que exasperam de solidão e as outras que constróem sub-reptícias teias do desejo para sobreviverem à loucura, ao desespero dos dias; as estóicas que suportam, pelos favores da fortuna, as longas noites de espera em catres desertos, a perderem viço e a ganharem rugas e celulite; carcomidas traves que sustêm o desejo, o melhor da vida. Estas Pénelopes da beira Ria, tecendo, entre sargaço e linho, os esparsos fios da espera, porque é necessário construir um simulacro de vida, fabular o desespero. Esteios de muitas derivas, de tantos encontrões, tantos anos de vida à bolina – nesta escrita também por lá andamos aos baldões.
Viúvas de Vivos é uma espécie de Auto da Índia actualizado, sem as naus de aportar à Ribeira, mas com a Ria a subir com sal e lágrimas pelas terras abandonadas, com as dunas que tapam horizontes de onde parte a frágil barcaça do João Frade em busca de uma América mítica e da fortuna daqueles que a encontram. Índia sem Preste João, sem heróis nem glória. A realidade a preto e branco e fuligem. Penas nossas, esparsas no vento.
Desconstrução, o outro lado de Viúvas de Vivos
Nestas terras desertas de homens, como a Galiza de Rosalia de Castro, começam a surgir sinais de mudança, transformações exteriores que o dinheiro que vem do outro lado do mar, permite. Que nem sempre a desventura ronda estas praias. Ostentação que transforma a rural paisagem, maisons que magoam o olhar nostálgico; os apetrechos domésticos, o frigorífico, a televisão, o automóvel, o trajar, as poses do remedeio económico. Os desvalidos da sorte regressam e vingam-se desvirtuando a paisagem que só lhes deu fome e canseiras, terra que não chegava para todos e da qual os braços fugiram deixando-a abandonada aos cardos, às silvas e aos pardais.
A emigração foi (é) uma fuga ao real, uma incapacidade dos oprimidos entenderem os mecanismos das opressões que os submetem ao atavismo da miséria e da ignorância. A emigração era (é) forma última de dar lugar ao sonho e à esperança, de arranjar linimentos para a vida. O mundo não podia ser apenas esse chão minguado, a broa curta, a sardinha dividida por três. Outros mundos existiam para além da Ria e do Mar mesmo que procurá-los obrigasse a decepar raízes; partir à aventura em barcos que chegavam ou não ao porto por achar, deixando em terra mulheres secas com o coração cheio mais de ambição que de amor. O amor é um luxo que as urgências da fome subalterniza.
Mas não foi apenas a paisagem que mudou com a emigração, mudaram igualmente os hábitos, os costumes, o linguajar. O paradigma dessa mudança e do drama que lhe está associado, o qual ainda hoje, de forma mais atenuada, prossegue, vem inscrito na novela Desconstrução. Cinquenta e sete anos separam Viúvas de Vivos de Desconstrução e, no entanto, há nesta novela pícara e a roçar o fantástico a mesma exuberância no uso da língua, a mesma capacidade inventiva, o mesmo estilaço já detectado em Viúvas, embora um tudo nada mais solto e depurado.
Desconstrução fala-nos não já da partida mas do regresso de um americano. O Xico ranhoso que foi para a América e regressou com alguns patacos no bolso do colete. Construiu maison de admiração, vários andares, com mirantes e outros luxos alheios à arquitectura indígena, mordomias de estrangeirado. Conquista a Miquelina, espécie de Anjo Azul das salinas, rudeza elementar nas artes de sedução; compra título de Barão para exibir com a farpela nova, patrocina obras de caridade para padronizar estatuto. O Xico da construção megalómana, da maison para assombro basbaque, vivendo a sua fugaz passagem pelas grandezas do mundo, mas igualmente o Xico ranhoso da Desconstrução, da casa vendida tijolo a tijolo: país da grandeza decadente de D.João V às misérias da tanga actual, metáfora nossa, minguada e vil tristeza de pátria acéfala. A arte de contador exímio de Joaquim Lagoeiro, a meter na novela, à socapa, (rabo escondido com o gato de fora) pecados nossos, de sempre: a moral tolhedora, ainda a cheirar ao unto medievo; a vã cobiça, a raiva, o ciúme, o fado, contudo o humor rarefeito e sorna (aquela do crime é hilariante), cadinhos de fantástico, a alma desbragada, o acinte à Eça; Xico-Barão a ir-se de brios, ao tapete, a amancebar-se com a Rosa criada (ao que um Barão, de figurino rua dos Fanqueiros, chega), ambos carentes de afectos no desamparo dos dias sob telha vã, com bácoros e cabras à compita. Um gozo na sintaxe, deleite para os sentidos esta escrita. Sobe a adrenalina com os frios, ventos de leste, presságios de mau agoiro, e os amantes resistem às intempéries e ao falatório das gentes. O Xico a regressar à sua condição original sem ademanes de baronato, raso como a casa, a aconchegar-se à verdade, aliviado do peso de si mesmo .
A estória de Desconstrução não está alicerçada na desagregação de um carácter (H. L. Menken), mas é produto do transitório fascínio do Xico pelos brilhos do mundo, empurrado pela sacripanta de sua Miquelina, mulherio com o Demo no corpo: tentações bíblicas; fraquezas do corpo, que um homem não é de pau. Xico não é um obcecado depressivo como o desgraçado professor de Anjo Azul. É lúcido e aguenta as estocadas da sorte, embora por vezes a tampa se lhe solte e resvale para a asneira – nada de irremediável, contudo. Xico é um resistente, um lutador que Joaquim Lagoeiro constrói com detectável ternura, que humaniza até à sublimação, em tocante processo diegético. Mesmo quando a prosa parece tentada pelo faca e alguidar de cordame, Lagoeiro, prestidigitador atento, dá a volta ao texto, refresca a narrativa com pitadas de humor sadio, pinceladas leves de um fantástico sem trevas e voltamos a render-nos a essa escrita de sal e água, a essa pureza essencial da fala, a essa técnica de saltar o abismo que só um grande escritor consegue encenar.
Xico é o regressado do sonho americano, um dos que partiu de noite no frágil barco do João Frade, voltou rico para perder-se/encontrar-se na leira madrasta. A novela Desconstrução poderia ser o último capítulo de Viúvas de Vivos: o seu final pícaro e feliz.
Apetecia-me ainda falar de algumas mulheres que povoam as páginas, belíssimas, de O Baile: D. Engrácia, a arder de desejos; a púdica Glorinha; a trágica Benzedeira do Mar; das megeras, das calculistas, das ardentes, das conformadas, das levianas; uma galeria de retratos no feminino, que nesse particular era o verbo, o olhar e a imaginação de Joaquim Lagoeiro exímios perscrutadores. Mas, igualmente, Vicência, Céu, Rosa, Amélia, de Viúvas, mulheres de homens que hão-de emigrar sempre, enquanto não houver trabalho para todos, ou enquanto não conseguirmos que esta terra, aonde andamos derivando alheios de identidade e de memória, na qual nem sequer a Jangada de Pedra, de José Saramago, nos conforta de epopeia, realmente nos pertença e nós nela possamos ser, finalmente, condutores do nosso próprio destino.
Um dia.
11 Urbano Tavares Rodrigues, sobre Viúvas de Vivos