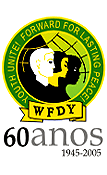O imperialismo e a resistência dos povos
«O estado imperial é aquele que impõem novas regras que moldam o comportamento dos demais estados». A frase, retirada de um dos valiosos trabalhos do professor James Petras, define de forma lapidar os EUA e o cerne da sua política externa na actual fase do capitalismo globalizado. Aproveitando a sua presença em Portugal, o Avante! foi falar com o sociólogo norte-americano, uma conversa franca e aberta sobre a guerra do Iraque, a chamada «reforma» da ONU, os avanços e recuos das forças progressistas na América Latina e no Médio Oriente e, como não podia deixar de ser entre camaradas, o papel dos comunistas e a resistência dos povos.
«As lutas mais eficazes pelo progresso são as lutas de massas»
Que papel podem desempenhar no mundo países – sobretudo da América Latina - que hoje se afirmam como tendo governos de esquerda?
James Petras: O problema é que alguns desses governos não são verdadeiramente de esquerda, não representam uma ruptura. Se analisarmos as políticas de fundo percebemos que, no Brasil, Lula pactuou com o Fundo Monetário Internacional (FMI); no Uruguai, Tabaré Vásquez está a fazer um acordo com os EUA; na Argentina, Kirchner, mais heterodoxo, está a limitar os benefícios do crescimento económico concentrando-o na burguesia mais poderosa e, simultaneamente, abandonou a pretensão de reverter as privatizações. Estes governos são um reflexo de uma determinada «esquerda». Não podemos esquecer que Lula, Kirchner e Tabaré aumentaram a sua presença militar no Haiti.
O que existe na Argentina, no Brasil e, com menos incidência, no Uruguai, são grupos e movimentos de massas contra a ALCA, contra a invasão do Haiti, contra a guerra e o imperialismo de Bush, mas não estão articulados com os respectivos governos.
Os únicos executivos da América Latina que tomaram posições claramente anti-imperialistas foram os de Cuba e da Venezuela.
A outro nível sim, temos poderosos movimentos no Equador ou na Bolívia. Por isto, a nossa análise deve ser mais fina e simultaneamente mais concreta. Não devemos classificar partidos, governos ou presidentes pelo seu passado. Como sabemos, a sociedade mostra sempre mudanças e evoluções. Os Tupamaro estão agora no governo do Uruguai, mas acordaram deixar de lado as violações e os genocídios cometidos pelos militares. Como se podem esquecer que os seus companheiros morreram sob tortura? Como podem fazer tamanha inversão política?
Eu creio que, por isto, devemos ser muito concretos nas nossas análises e classificações, muito atentos para percebermos as mudanças, até porque parte dos dirigentes históricos encontram-se hoje institucionalizados, integrados nos sistemas locais ou globais de dominação.
Quando fala de Cuba e da Venezuela, considera que existe um perigo real de serem invadidos pelos EUA?
Na minha opinião é um perigo constante. No caso da Venezuela os acontecimentos demonstram precisamente isso. Primeiro ocorreu um golpe militar que, felizmente, fracassou. Depois, por via de um bloqueio económico concertado entre patrões, altos funcionários do Estado e gestores de empresas públicas tentaram derrubar o governo. Seguidamente, incitaram a Colômbia a agredir a Venezuela. Não fosse a guerra prolongada no Iraque e, na minha perspectiva, os EUA já tinham atacado o governo bolivariano, já tinham escolhido outro alvo.
A questão é que a resistência no Iraque é tão forte, tão prolongada e tão profunda, tem causado tantos danos e desgaste ao exército e à economia dos EUA, que para eles torna-se impossível abrir um terceiro vector de combate para além do Afeganistão e do Iraque.
A agenda da guerra
Então encara igualmente o recente acordo com a República Popular Democrática da Coreia como o adiamento de um possível conflito?
Não é segredo para ninguém que os EUA têm uma doutrina e uma agenda de guerras continuas. Está confirmado por declarações de Bush ou Rumsfeld.
Primeiro o Afeganistão, depois o Iraque, em seguida a RPD da Coreia, o Irão, a Síria, estes três ao mesmo tempo ou com algum intervalo temporal.
A agenda baseava-se na crença de que facilmente imporiam a sua ordem nestes territórios e podiam então partir para as restantes fases: a eliminação da oposição na América Latina e a repressão da oposição interna.
Estes planos estão de momento bloqueados porque foram obrigados a concentrar parte da sua máquina militar no Iraque e, desta forma, para além de terem que lidar com a carência de meios para a abertura de outros teatros de guerra, têm que jogar com a crescente oposição popular no seu próprio país.
Um paralelo que podemos fazer é com o prolongamento da guerra do Vietname na década de 60. Na época, a guerra «salvou» Cuba de um ataque frontal. Os EUA chegaram a ter 500 mil soldados no Vietname, facto que paralisou a preparação da invasão de Cuba. Este é um factor global que devemos ter sempre em conta na análise das agressões. Cuba é um bom exemplo.
Podemos falar de uma resistência iraquiana minimamente consistente?
Não é fácil falar de unidade da resistência iraquiana. É melhor ter em consideração várias frentes de luta - armada, civil e política - as quais incluem grupos islâmicos, grupos seculares-religiosos, de mobilização de massas. Aparentemente funcionam dentro de um espectro de unidade para forçar a desocupação, mas um facto importante a considerar é que as forças repressivas dos EUA e da Grã-Bretanha têm certamente infiltrados na dita resistência.
Um caso muito explícito foi o dos dois soldados ingleses em Bassorá. Procuraram acicatar as tensões e o conflito entre os Sunitas e o Xiitas, portanto é credível que este tipo de actividades possa já ter ocorrido às centenas noutras partes do território. É a política externa resumida na frase «dividir para reinar», isto é, procuram criar um conflito civil por forma a cindirem a acção de massas e controlarem mais facilmente o país. Não encontro justificação política para os ataques aos mercados ou às iniciativas religiosas, quer da parte dos Sunitas, quer da parte dos Xiitas. Este tipo de atentados foram, em minha opinião, na sua grande maioria levados a cabo por agentes infiltrados dos próprios ocupantes.
Os EUA tinham o objectivo de controlar o petróleo do Iraque, mas parece que para já não conseguiram fazê-lo em toda a linha. Como avalia a situação?
Julgo que o problema deve ser reformulado.
Nas investigações que fiz, as companhias petrolíferas que eventualmente lucravam com a guerra já tinham estabilizado, de forma directa ou contornando o embargo ao Iraque, o saque dos recursos. O factor constante do qual me apercebi foi que alguns dos principais políticos na administração norte-americana estavam ligados ao movimento sionista internacional. Ninguém quer falar disto com medo de ser acusado de anti-semitismo, até porque o poder destes grupos permite desqualificar politicamente um indivíduo.
Certo é que Paul Wolfovitz ou Douglas Feist, entre outros, são fanáticos ultra-sionistas, ligados a organizações que deste há muito tempo faziam propaganda para destruir o Iraque. A razão é simples. O Iraque era, do ponto de vista científico e até pela tradição secular, o país mais avançado no mundo árabe.
Igualmente certo é que Rumsfeld, Rice ou Cheney têm ligações aos interesses petrolíferos, mas a sua principal relação é com o militarismo, com o domínio geo-político da região a partir de acções militares por forma a ganharem vantagem no conflito inter-imperialista. Contudo, não anteciparam três factores: que a guerra se iria prolongar tanto; que os boicotes da resistência não permitiriam uma baixa do preço do petróleo no mercado interno norte-americano – que era sem dúvida um dos objectivos centrais -, e que a concorrência da China levaria a um aumento da procura do petróleo com tamanha influência no mercado mundial.
Para os sionistas é pouco importante se o petróleo baixa ou não, desde que os seus objectivos de domínio na região sejam alcançados e Israel tenha eliminado um competidor directo.
Para os restantes é verdade que os planos tanto ao nível do petróleo como ao nível dos custos da guerra saíram bem mais difíceis de cumprir no período estimado.
A resposta necessária
Que resposta pode dar o povo a esta guerra total?
O Iraque é hoje o centro da luta anti-imperialista. Há muitas formas de luta e, em última análise, elas dependem da organização política das massas e até da história dos próprios movimentos nos respectivos países. Nos países árabes, por múltiplas razões, os grupos marxistas sofreram derrotas e foram amplamente reprimidos. Os movimentos nacionalistas, fruto das suas contradições internas, encontram-se debilitados. Neste vazio surgem os movimentos islâmicos que alcançam grande influência junto das massas. Muita gente sente-se atraída por este tipo de movimentos porque, no actual contexto, são os únicos que apresentam instrumentos práticos de acção.
E que papel podem desempenhar os comunistas?
Em minha opinião, as eleições são menos importantes para os partidos comunistas que a luta de massas.
Não resolve, por exemplo no Uruguai, o Partido Comunista ser responsável no governo pelos programas assistencialistas, nos quais os pobres não têm apenas que sê-lo, devem demonstrá-lo, devem provar e humilhar-se.
O mesmo relativamente ao PC do Brasil, metido num governo que pouco mantém de progressista, antes colabora com o imperialismo no Haiti, como já disse.
Eu creio que como sumário mais generalizado, a história dos últimos 30 anos mostra que as lutas mais eficazes pelo progresso são as de massas, de acção directa. Por outro lado, a política eleitoral de apoio a «males menores» tem sido um desastre para os partidos comunistas, integrando-os no sistema e, pior, revelando que se institucionalizam, imitam os restantes e se corrompem.
O que eu defendo é que a táctica eleitoral tem que ser muito estreitamente controlada pela luta de massas. Os salários dos eleitos devem ser do partido e a sua acção deve estar sempre de acordo com as linhas definidas pelo colectivo e pelas necessidades das massas. Se assim não acontecer são absorvidos e começam a achar como legítimos certos privilégios do parlamentarismo.
Eu estive com partidos que participaram em eleições na Grécia, em Espanha, na América Latina, e as conclusões a que chego hoje foram confirmadas pela experiência prática, não resultam de simples decalques de textos de Lénine ou de Rosa Luxemburgo onde esta problemática é abordada.
Balanço da Assembleia Geral da ONU
Um fracasso global
Qual a sua opinião sobre o resultado da recente Assembleia Geral das Nações Unidas onde foi discutida a chamada «reforma» da instituição?
O consenso, tanto de gente progressista como de gente de direita, é que a Assembleia se revelou um grande fracasso.
No campo da esquerda, o fracasso mede-se pelo facto de não terem sido abordadas medidas urgentes sobre a pobreza, a desigualdade ou exploração no mundo.
Do ponto de vista da direita, ele traduz-se na medida em que não foi possível concentrar todo o poder no grupo mais reduzido de países que, no fundamental, pretendem eliminar a ONU como fórum.
Deste ponto de vista, o resultado da Assembleia foi um fiasco, uma falta de visão estratégica, uma ausência de definição e rumo, de contributos que permitam a superação dos grandes problemas que assolam a humanidade.
A táctica do imperialismo é debilitar ao máximo as Nações Unidas. Por essa razão, os EUA nomearam John Bolton, um ultra conservador, como seu representante. O projecto norte-americano passa por bloquear as Nações Unidas a tal ponto que estas deixem de funcionar.
Neste âmbito, considero que os EUA granjearam um sucesso relativo na medida em que com as emendas apresentadas dificultaram a acção da Assembleia.
Do ponto de vista dos movimentos progressistas, sobretudo do terceiro mundo, e dos governos de «esquerda», penso que devem considerar a necessidade de revitalizar movimentos fora da ONU. Movimentos não alienados, de solidariedade – com o Iraque ou a Venezuela – e construir plataformas de cooperação económica e política. Neste sentido, o problema passa por saber em que moldes é possível criar um novo fórum entre iguais, coerente e interventivo em oposição ao unilateralismo militar dos EUA. Isto sem deixar cair as Nações Unidas como espaço de debate.
Ainda a respeito da Assembleia das Nações Unidas, muito se discutiu sobre a necessidade do continente africano estar representado no Conselho de Segurança. Considera ser possível alcançar este objectivo?
É difícil falar do assunto porque estamos numa fase de pós-colonialismo, pós-apartheid.
Por exemplo, o governo de Tabo Mbeki, na África do Sul, apresenta traços neoliberais. Surgiu uma nova burguesia negra, com novos actores a tomarem alguns dos lugares dos antigos senhores brancos nas empresas, na economia. O país mantém uma elevadíssima taxa de desemprego e os movimentos rurais dos sem-terra permanecem sem a reclamada reforma agrária. A terra ainda não foi distribuída e, onde tal já aconteceu, a propriedade passou de brancos para negros, mas manteve a mesma relação de propriedade e exploração. Assim torna-se difícil acreditar que nas instituições internacionais passem da crítica a uma postura consequente e progressista.
James Petras: O problema é que alguns desses governos não são verdadeiramente de esquerda, não representam uma ruptura. Se analisarmos as políticas de fundo percebemos que, no Brasil, Lula pactuou com o Fundo Monetário Internacional (FMI); no Uruguai, Tabaré Vásquez está a fazer um acordo com os EUA; na Argentina, Kirchner, mais heterodoxo, está a limitar os benefícios do crescimento económico concentrando-o na burguesia mais poderosa e, simultaneamente, abandonou a pretensão de reverter as privatizações. Estes governos são um reflexo de uma determinada «esquerda». Não podemos esquecer que Lula, Kirchner e Tabaré aumentaram a sua presença militar no Haiti.
O que existe na Argentina, no Brasil e, com menos incidência, no Uruguai, são grupos e movimentos de massas contra a ALCA, contra a invasão do Haiti, contra a guerra e o imperialismo de Bush, mas não estão articulados com os respectivos governos.
Os únicos executivos da América Latina que tomaram posições claramente anti-imperialistas foram os de Cuba e da Venezuela.
A outro nível sim, temos poderosos movimentos no Equador ou na Bolívia. Por isto, a nossa análise deve ser mais fina e simultaneamente mais concreta. Não devemos classificar partidos, governos ou presidentes pelo seu passado. Como sabemos, a sociedade mostra sempre mudanças e evoluções. Os Tupamaro estão agora no governo do Uruguai, mas acordaram deixar de lado as violações e os genocídios cometidos pelos militares. Como se podem esquecer que os seus companheiros morreram sob tortura? Como podem fazer tamanha inversão política?
Eu creio que, por isto, devemos ser muito concretos nas nossas análises e classificações, muito atentos para percebermos as mudanças, até porque parte dos dirigentes históricos encontram-se hoje institucionalizados, integrados nos sistemas locais ou globais de dominação.
Quando fala de Cuba e da Venezuela, considera que existe um perigo real de serem invadidos pelos EUA?
Na minha opinião é um perigo constante. No caso da Venezuela os acontecimentos demonstram precisamente isso. Primeiro ocorreu um golpe militar que, felizmente, fracassou. Depois, por via de um bloqueio económico concertado entre patrões, altos funcionários do Estado e gestores de empresas públicas tentaram derrubar o governo. Seguidamente, incitaram a Colômbia a agredir a Venezuela. Não fosse a guerra prolongada no Iraque e, na minha perspectiva, os EUA já tinham atacado o governo bolivariano, já tinham escolhido outro alvo.
A questão é que a resistência no Iraque é tão forte, tão prolongada e tão profunda, tem causado tantos danos e desgaste ao exército e à economia dos EUA, que para eles torna-se impossível abrir um terceiro vector de combate para além do Afeganistão e do Iraque.
A agenda da guerra
Então encara igualmente o recente acordo com a República Popular Democrática da Coreia como o adiamento de um possível conflito?
Não é segredo para ninguém que os EUA têm uma doutrina e uma agenda de guerras continuas. Está confirmado por declarações de Bush ou Rumsfeld.
Primeiro o Afeganistão, depois o Iraque, em seguida a RPD da Coreia, o Irão, a Síria, estes três ao mesmo tempo ou com algum intervalo temporal.
A agenda baseava-se na crença de que facilmente imporiam a sua ordem nestes territórios e podiam então partir para as restantes fases: a eliminação da oposição na América Latina e a repressão da oposição interna.
Estes planos estão de momento bloqueados porque foram obrigados a concentrar parte da sua máquina militar no Iraque e, desta forma, para além de terem que lidar com a carência de meios para a abertura de outros teatros de guerra, têm que jogar com a crescente oposição popular no seu próprio país.
Um paralelo que podemos fazer é com o prolongamento da guerra do Vietname na década de 60. Na época, a guerra «salvou» Cuba de um ataque frontal. Os EUA chegaram a ter 500 mil soldados no Vietname, facto que paralisou a preparação da invasão de Cuba. Este é um factor global que devemos ter sempre em conta na análise das agressões. Cuba é um bom exemplo.
Podemos falar de uma resistência iraquiana minimamente consistente?
Não é fácil falar de unidade da resistência iraquiana. É melhor ter em consideração várias frentes de luta - armada, civil e política - as quais incluem grupos islâmicos, grupos seculares-religiosos, de mobilização de massas. Aparentemente funcionam dentro de um espectro de unidade para forçar a desocupação, mas um facto importante a considerar é que as forças repressivas dos EUA e da Grã-Bretanha têm certamente infiltrados na dita resistência.
Um caso muito explícito foi o dos dois soldados ingleses em Bassorá. Procuraram acicatar as tensões e o conflito entre os Sunitas e o Xiitas, portanto é credível que este tipo de actividades possa já ter ocorrido às centenas noutras partes do território. É a política externa resumida na frase «dividir para reinar», isto é, procuram criar um conflito civil por forma a cindirem a acção de massas e controlarem mais facilmente o país. Não encontro justificação política para os ataques aos mercados ou às iniciativas religiosas, quer da parte dos Sunitas, quer da parte dos Xiitas. Este tipo de atentados foram, em minha opinião, na sua grande maioria levados a cabo por agentes infiltrados dos próprios ocupantes.
Os EUA tinham o objectivo de controlar o petróleo do Iraque, mas parece que para já não conseguiram fazê-lo em toda a linha. Como avalia a situação?
Julgo que o problema deve ser reformulado.
Nas investigações que fiz, as companhias petrolíferas que eventualmente lucravam com a guerra já tinham estabilizado, de forma directa ou contornando o embargo ao Iraque, o saque dos recursos. O factor constante do qual me apercebi foi que alguns dos principais políticos na administração norte-americana estavam ligados ao movimento sionista internacional. Ninguém quer falar disto com medo de ser acusado de anti-semitismo, até porque o poder destes grupos permite desqualificar politicamente um indivíduo.
Certo é que Paul Wolfovitz ou Douglas Feist, entre outros, são fanáticos ultra-sionistas, ligados a organizações que deste há muito tempo faziam propaganda para destruir o Iraque. A razão é simples. O Iraque era, do ponto de vista científico e até pela tradição secular, o país mais avançado no mundo árabe.
Igualmente certo é que Rumsfeld, Rice ou Cheney têm ligações aos interesses petrolíferos, mas a sua principal relação é com o militarismo, com o domínio geo-político da região a partir de acções militares por forma a ganharem vantagem no conflito inter-imperialista. Contudo, não anteciparam três factores: que a guerra se iria prolongar tanto; que os boicotes da resistência não permitiriam uma baixa do preço do petróleo no mercado interno norte-americano – que era sem dúvida um dos objectivos centrais -, e que a concorrência da China levaria a um aumento da procura do petróleo com tamanha influência no mercado mundial.
Para os sionistas é pouco importante se o petróleo baixa ou não, desde que os seus objectivos de domínio na região sejam alcançados e Israel tenha eliminado um competidor directo.
Para os restantes é verdade que os planos tanto ao nível do petróleo como ao nível dos custos da guerra saíram bem mais difíceis de cumprir no período estimado.
A resposta necessária
Que resposta pode dar o povo a esta guerra total?
O Iraque é hoje o centro da luta anti-imperialista. Há muitas formas de luta e, em última análise, elas dependem da organização política das massas e até da história dos próprios movimentos nos respectivos países. Nos países árabes, por múltiplas razões, os grupos marxistas sofreram derrotas e foram amplamente reprimidos. Os movimentos nacionalistas, fruto das suas contradições internas, encontram-se debilitados. Neste vazio surgem os movimentos islâmicos que alcançam grande influência junto das massas. Muita gente sente-se atraída por este tipo de movimentos porque, no actual contexto, são os únicos que apresentam instrumentos práticos de acção.
E que papel podem desempenhar os comunistas?
Em minha opinião, as eleições são menos importantes para os partidos comunistas que a luta de massas.
Não resolve, por exemplo no Uruguai, o Partido Comunista ser responsável no governo pelos programas assistencialistas, nos quais os pobres não têm apenas que sê-lo, devem demonstrá-lo, devem provar e humilhar-se.
O mesmo relativamente ao PC do Brasil, metido num governo que pouco mantém de progressista, antes colabora com o imperialismo no Haiti, como já disse.
Eu creio que como sumário mais generalizado, a história dos últimos 30 anos mostra que as lutas mais eficazes pelo progresso são as de massas, de acção directa. Por outro lado, a política eleitoral de apoio a «males menores» tem sido um desastre para os partidos comunistas, integrando-os no sistema e, pior, revelando que se institucionalizam, imitam os restantes e se corrompem.
O que eu defendo é que a táctica eleitoral tem que ser muito estreitamente controlada pela luta de massas. Os salários dos eleitos devem ser do partido e a sua acção deve estar sempre de acordo com as linhas definidas pelo colectivo e pelas necessidades das massas. Se assim não acontecer são absorvidos e começam a achar como legítimos certos privilégios do parlamentarismo.
Eu estive com partidos que participaram em eleições na Grécia, em Espanha, na América Latina, e as conclusões a que chego hoje foram confirmadas pela experiência prática, não resultam de simples decalques de textos de Lénine ou de Rosa Luxemburgo onde esta problemática é abordada.
Balanço da Assembleia Geral da ONU
Um fracasso global
Qual a sua opinião sobre o resultado da recente Assembleia Geral das Nações Unidas onde foi discutida a chamada «reforma» da instituição?
O consenso, tanto de gente progressista como de gente de direita, é que a Assembleia se revelou um grande fracasso.
No campo da esquerda, o fracasso mede-se pelo facto de não terem sido abordadas medidas urgentes sobre a pobreza, a desigualdade ou exploração no mundo.
Do ponto de vista da direita, ele traduz-se na medida em que não foi possível concentrar todo o poder no grupo mais reduzido de países que, no fundamental, pretendem eliminar a ONU como fórum.
Deste ponto de vista, o resultado da Assembleia foi um fiasco, uma falta de visão estratégica, uma ausência de definição e rumo, de contributos que permitam a superação dos grandes problemas que assolam a humanidade.
A táctica do imperialismo é debilitar ao máximo as Nações Unidas. Por essa razão, os EUA nomearam John Bolton, um ultra conservador, como seu representante. O projecto norte-americano passa por bloquear as Nações Unidas a tal ponto que estas deixem de funcionar.
Neste âmbito, considero que os EUA granjearam um sucesso relativo na medida em que com as emendas apresentadas dificultaram a acção da Assembleia.
Do ponto de vista dos movimentos progressistas, sobretudo do terceiro mundo, e dos governos de «esquerda», penso que devem considerar a necessidade de revitalizar movimentos fora da ONU. Movimentos não alienados, de solidariedade – com o Iraque ou a Venezuela – e construir plataformas de cooperação económica e política. Neste sentido, o problema passa por saber em que moldes é possível criar um novo fórum entre iguais, coerente e interventivo em oposição ao unilateralismo militar dos EUA. Isto sem deixar cair as Nações Unidas como espaço de debate.
Ainda a respeito da Assembleia das Nações Unidas, muito se discutiu sobre a necessidade do continente africano estar representado no Conselho de Segurança. Considera ser possível alcançar este objectivo?
É difícil falar do assunto porque estamos numa fase de pós-colonialismo, pós-apartheid.
Por exemplo, o governo de Tabo Mbeki, na África do Sul, apresenta traços neoliberais. Surgiu uma nova burguesia negra, com novos actores a tomarem alguns dos lugares dos antigos senhores brancos nas empresas, na economia. O país mantém uma elevadíssima taxa de desemprego e os movimentos rurais dos sem-terra permanecem sem a reclamada reforma agrária. A terra ainda não foi distribuída e, onde tal já aconteceu, a propriedade passou de brancos para negros, mas manteve a mesma relação de propriedade e exploração. Assim torna-se difícil acreditar que nas instituições internacionais passem da crítica a uma postura consequente e progressista.